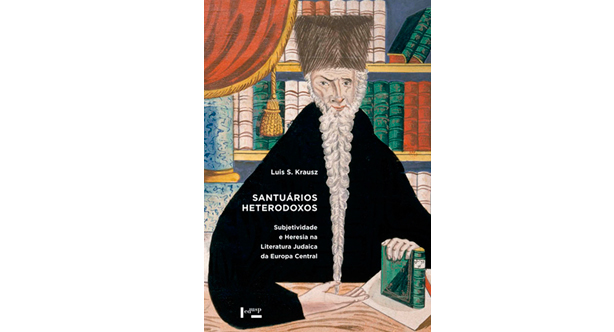LIVROS – “CÉU SUBTERRÂNEO” DE PAULO ROSENBAUM E “SANTUÁRIOS HETERODOXOS” DE LUIS SÉRGIO KRAUSZ
CÉU SUBTERRÂNEO – POR HAROM GAMAL
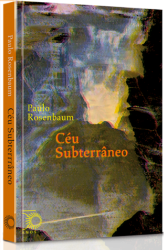 Céu subterrâneo, de Paulo Rosenbaum, é um romance ambientado durante a maior parte da narrativa em Israel. O narrador, Adam Mondale, no início do primeiro capítulo, é surpreendido pela chegada inesperada de uma dupla de policiais ao apartamento onde está hospedado, em Jerusalém. Um deles entrega-lhe um papel e diz: “— Precisamos de seu passaporte, aí explica que ele será retido temporariamente”. Neste momento ainda nada sabemos sobre Mondale, nem mesmo o que este psicólogo brasileiro faz em Israel, temos conhecimento apenas de que se trata de um estrangeiro e que seu único documento, o passaporte que, como o próprio nome indica, lhe permitiria entrar e sair do país, não mais se encontra em seu poder. No final do primeiro capítulo, em forma de flashback, começamos a ser informados sobre a história do personagem e, pouco a pouco, dos motivos de sua viagem a Israel.
Céu subterrâneo, de Paulo Rosenbaum, é um romance ambientado durante a maior parte da narrativa em Israel. O narrador, Adam Mondale, no início do primeiro capítulo, é surpreendido pela chegada inesperada de uma dupla de policiais ao apartamento onde está hospedado, em Jerusalém. Um deles entrega-lhe um papel e diz: “— Precisamos de seu passaporte, aí explica que ele será retido temporariamente”. Neste momento ainda nada sabemos sobre Mondale, nem mesmo o que este psicólogo brasileiro faz em Israel, temos conhecimento apenas de que se trata de um estrangeiro e que seu único documento, o passaporte que, como o próprio nome indica, lhe permitiria entrar e sair do país, não mais se encontra em seu poder. No final do primeiro capítulo, em forma de flashback, começamos a ser informados sobre a história do personagem e, pouco a pouco, dos motivos de sua viagem a Israel.
A compreensão da narrativa pode transitar por várias vias, e a exiguidade de uma resenha não permite trilhar todos esses caminhos. Num primeiro momento, deparamo-nos com um personagem judeu, mas alguém que não se sente ligado ao judaísmo, trata-se de um deslocado do meio religioso, no máximo um judeu cultural. Em segundo, este homem, Adam Mondale, é um ser em constante mutação. Ele exonera-se do cargo de diretor de uma conceituada universidade brasileira decidindo deixar tudo para trás e parte, quase como um nômade, para Israel. O que ele busca? Pouco a pouco vamos descobrindo, e é bom que o leitor acompanhe o percurso e as descobertas deste personagem, ora em conflito consigo mesmo, ora com o mundo. Mesmo em território judeu, desde sua chegada ele é um estrangeiro, isto é, mostra-se avesso à integração a qualquer tipo de grupo de judeus. O quê, na verdade, ele descobre? Que todos à sua volta são, até certo ponto, estrangeiros, como o motorista de táxi que o transporta. São judeus iraquianos, marroquinos, iemenitas e russos. Então, ele pergunta: “— E os motoristas israelenses?”. Eis a resposta da boca de um deles: “— Desde a fundação de Israel, milhões de judeus foram expulsos e exilados, a maioria de países árabes. Para nós, e para os russos, restou dirigir, mas não reclamo…”.
Duas palavras do texto acima são conhecidas do povo judeu. A primeira delas é exílio. No percurso por Jerusalém, Tel Aviv e Hebron, o que mais Mondale descobre são personagens exilados, tenham eles consciência disso ou não. Caso não sejam exilados dos países de origem, são exilados devido à condição que os encerra. Israel surge como uma Babel distorcida, onde a religião apresenta-se como uma espécie de língua universal a tentar estabelecer sentido entre todos. Mas ela, a religião, seria suficiente para esta missão? Nem tanto, o que se observa são personagens “desfilhados”, como afirma Berta Waldman no prólogo quando se refere a Mondale. Mas não há apenas ele. No seu périplo para tentar desvendar o mistério da Makhpelá (gruta onde estariam enterrados os patriarcas), ele depara-se com gente semelhante a ele, como Michel Haas, diretor do Museu Rockfeller, Amy (famosa escritora de livros juvenis), e até mesmo Amos Oz, com quem o narrador conversa ao telefone, numa pretenciosa entrevista sobre literatura. De tudo isso, transparece a característica escorregadia da condição do que é ser judeu.
A segunda palavra é dirigir. Porque a maior parte dos judeus sempre está dirigindo suas orações a Deus. Além disso, o ato de ser judeu compete em ter sempre algum tipo de direção, ou direcionamento. A própria volta a Israel estaria nesta linha de interpretação. No entanto, quem garante que neste entendimento encontra-se a solução dos problemas? O que resta a Mondale é uma espécie de melancolia. Mas mesmo assim ele tem uma direção a seguir. Guiado por uma imagem, uma deformação de um negativo de fotografia, Adam está em busca de um elo perdido.
Realidade virtual
Neste ponto cabe um parêntese. A realidade virtual também se mostra presente no livro. Tendo em vista o que este narrador procura em Israel, esta realidade não estaria distante das revelações religiosas. No Museu Rockfeller há a descrição minuciosa de um engenho capaz de trazer luz e desvendar os mais obscuros mistérios relativos ao universo da fotografia e da geração de imagens. Operando um aparelho conhecido por poucos, o diretor do museu revela a Adam não apenas o alto nível de segredo de todo aquele maquinário, mas também como o equipamento funciona, presenciando os dois a fabulosa imagem criada a partir do negativo levado por Mondale, o que o faz acreditar na revelação de um mistério referente aos primórdios da humanidade. A cena perdura por toda a noite e boa parte da madrugada.
Paulo Rosenbaum foi contemplado com uma bolsa para viajar a Israel e escrever um romance, no que ele é muito bem-sucedido. Ele mescla na narrativa o mistério inerente à religião, envolve em sua história personagens históricos e célebres, como Moshe Dayan, Golda Meir, o já citado Amos Oz, e até mesmo militares que teriam participado de uma fracassada tentativa de expedição científica à gruta de Makhpelá. A questão palestina e o terrorismo também não ficam de fora da trama.
A narrativa permite discussão sobre literatura, assunto caro a muitos autores contemporâneos. Adam, além de ser um psicólogo especialista em comportamento animal, também revive o desejo de voltar a ser poeta, como já o havia tentado na juventude, sobretudo, toma esta decisão após aborrecer-se durante muitos anos no ambiente acadêmico de sua universidade. Mas ele encontra-se dividido, ao mesmo tempo que é um escritor, também é um homem que parte à terra prometida com o objetivo de revelar um mistério relacionado ao que está escrito nos livros sagrados, como na própria Torá. Assim, como a linguagem da poesia caracteriza-se pela polifonia e pela plurissignificação, os signos religiosos procurados por Mondale também se deslocam, construindo diversos arcabouços semânticos. Ainda no universo dos personagens de Rosenbaum envolvidos na exploração da gruta, todos se mostram mudados após o evento.
Pode-se, para finalizar, levantar-se a seguinte questão: o que levaria a literatura ter nacionalidade? Bastaria o idioma em que os textos foram escritos para dizer que se trata de literatura brasileira, portuguesa, francesa, hebraica, etc.? Há muita discussão sobre esse ponto, o resultado apresenta cada vez mais dúvidas, questões desdobram-se sobre questões. É certo afirmar, no entanto, que Céu subterrâneo destaca-se por certificar que muitos escritores brasileiros fazem parte de uma literatura que poderíamos chamar de mundial, literatura que ultrapassa as fronteiras de cada nação. Alguns poderiam insinuar que se trata de literatura judaica. Neste caso, seríamos todos judeus.
OBRA DE LUIS SÉRGIO KRAUSZ ANALISA EMANCIPAÇÃO JUDAICA ATRAVÉS DA LITERATURA
No livro “Santuários Heterodoxos – Subjetividade e Heresia na Literatura Judaica da Europa Central” (Edusp), Luis Sérgio Krausz, professor da USP, seleciona dez escritores dos séculos 17 a 20 para compreender a emancipação dos judeus da Europa Central. Quando Shabtai Zvi (1626-1676) se apresentou ao mundo como o tão esperado Messias dos judeus, em 1648, deu início a uma revolução imprevista. Não porque seus planos tenham dado certo: capturado em Constantinopla, teve de se converter ao islamismo diante do sultão para salvar a própria vida, encerrando precocemente a heresia sabataísta. A grande contribuição de Shabtai Zvi foi disparar uma crise religiosa como nunca se tinha visto entre a comunidade judaica exilada na Europa, abrindo caminho para o questionamento da fé e da tradição. Ou seja, dando o empurrão para a entrada dos judeus europeus na modernidade.
Essa análise é o ponto de partida de Santuários Heterodoxos (Edusp, 2017), livro do professor de Literatura Hebraica e Judaica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP Luis Sérgio Krausz. O autor seleciona obras de dez escritores de entre os séculos 17 e 20 para compreender a emancipação dos judeus da Europa Central, sua inserção na moderna e iluminista sociedade europeia e o surgimento de uma subjetividade desvencilhada da tradição rabínica.
Com a centralidade do referencial religioso abalada pela frustração sabataísta, uma subjetividade individual começa a emergir, alimentada pelo encontro do judaísmo rabínico da Alemanha e Holanda com as práticas e ideias dos marranos, judeus da Península Ibérica convertidos à força ao catolicismo e que mantinham clandestinamente sua religião e costumes. O advento do “judeu de corte germânico”, que prestava serviços aos nobres cristãos graças ao seu poder econômico e por isso tinha uma vida social fora do gueto, também estimula o pensamento liberto das prescrições rabínicas.
Esses primórdios do “judeu moderno”, como define Krausz, começam a aparecer na primeira obra analisada, Zichronos Meret Gilkl Hamil, a autobiografia de Glückl von Hameln. Escrita no século 17 para ser deixada como livro de memórias e ensinamentos para a família, foi publicada só em 1896 por descendentes da autora. Vivendo no período da heresia sabataísta, Glückl von Hameln captura ao mesmo tempo as preocupações da comunidade judaica do exílio europeu, habitante do gueto à espera do Messias, e a aurora de um pensamento individual.
Conforme analisa Krausz, o livro “coincide com um primeiro ímpeto da sociedade judaica em direção à integração na sociedade europeia, em direção à emancipação. Se nele o sentido de subjetividade parece encontrar-se sempre submetido às crenças religiosas, as experiências individuais narradas são capazes de levar a autora e seus leitores à perplexidade. Tais narrativas invariavelmente são acompanhadas de um subtexto que reitera, com temor, a fidelidade às leis religiosas e, ao mesmo tempo, a aceitação estoica do destino, mas também parecem esboçar dúvidas quanto à validade universal dessas crenças, o que torna a postura narrativa de Glückl von Hameln emblemática da situação dos judeus à época dos prenúncios da emancipação e da assimilação”.
As dúvidas quanto ao abandono da religiosidade e das tradições desaparecem na autobiografia do polonês Salomon Maimon (1752-1800), Lebensgeschichte. Aqui, o otimismo iluminista faz do gueto lugar para ser esquecido, exemplo de opressão e sufocamento. Segundo Krausz, Maimon funda uma corrente de autores que, “persuadidos pelas promessas do Iluminismo, fazem a apologia de uma travessia em direção ao novo continente da modernidade burguesa, e a ela atribuem poderes redentores que se aproximam dos projetados sobre o advento da redenção, durante os séculos de isolamento, no pensamento messiânico”.
Se a obra de Maimon enfatiza a liberdade social trazida pela fuga do gueto, as cartas de Rahel Levin Varnhagen (1771-1833) são um grito a favor dos sentimentos particulares, o que aproxima a autora do movimento romântico alemão Sturm und Drang (Tempestade e Ímpeto). Nesse sentido, a Gefühlskultur (cultura dos sentimentos), que se liberta da tradição religiosa cristã e passa a cumprir papéis que antes eram de instâncias superiores transcendentes e inalcançáveis, também trava as mesmas batalhas junto ao judeu moderno.
“Esse espírito romântico e seu neopaganismo em tudo se contrapõem aos preceitos legalistas do judaísmo rabínico, fundamentados nos pressupostos do temor, do afastamento e da distância. A emancipação judaica torna-se, nesse caso, sobretudo, a emancipação dos sentimentos e das emoções, que instaura uma consciência característica da modernidade”, afirma Krausz.
O livro mapeia, contudo, limites para essa emancipação social e subjetiva. A crise de identidade e de pertencimento, conforme Krausz analisa em “O Castelo”, de Franz Kafka (1883-1924), parece demonstrar que a tradição e o senso comunitário não podem ser facilmente substituídos. Tendo sempre no horizonte o espectro dos movimentos nacionalistas e racistas que culminaram no Holocausto nazista, o professor discute o alcance do Édito de Tolerância de José II da Áustria, considerado à época um avanço na emancipação e inclusão dos judeus.
“Propor aos judeus tornarem-se artesãos e proibir-lhes a aquisição do grau de mestre; tornarem-se agricultores e proibir-lhes a propriedade de terras, talvez seja só uma outra maneira de lhes enviar as mesmas mensagens ambíguas que chegam do castelo, por carta ou telefone, a um Sr. K cada vez mais perplexo e confuso.” E Krausz conclui, em outro trecho: “Perdido entre a esperança e a frustração, o destino de quem está condenado à eterna exclusão do castelo pode ser resumido pela frase com que a mulher do estalajadeiro se dirige ao Sr. K.: ‘O senhor não é do castelo. O senhor não é da aldeia. O senhor não é nada’”.