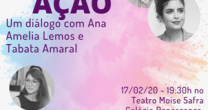MEU PAÍS DO CARNAVAL – POR HENRIQUE B. VELTMAN
 Minha mais antiga lembrança do Carnaval data de 1942. Aliás, tenho na minha mesinha de cabeceira uma foto, tirada na varanda de nosso apartamento na Rua Visconde de Itaúna, em que estamos eu, meu irmão e o David, nosso vizinho. Moysés com uma máscara negra pendurada na cabeça, eu com um pandeiro na mão, o David com um chapéu turco, um turbante?, nós dois com uma espécie de camisola branca, deve ter sido uma invenção de dona Rachel.
Minha mais antiga lembrança do Carnaval data de 1942. Aliás, tenho na minha mesinha de cabeceira uma foto, tirada na varanda de nosso apartamento na Rua Visconde de Itaúna, em que estamos eu, meu irmão e o David, nosso vizinho. Moysés com uma máscara negra pendurada na cabeça, eu com um pandeiro na mão, o David com um chapéu turco, um turbante?, nós dois com uma espécie de camisola branca, deve ter sido uma invenção de dona Rachel.
Lembro do meu pai com uma camisa florida e um colar havaiano, feliz da vida, cantando a marchinha Nós, Os Carecas, hoje sei que era de Arlindo Marques e Roberto Roberti:
Nós, nós os carecas
Com as mulheres somos maiorais
Pois na hora do aperto
É dos carecas que elas gostam mais
Lembro mais: as famílias desciam até a Rua General Caldwell no início da noite, levando algumas cadeiras, um farnel com bolos e sucos, e ali ficávamos na esperança, sempre alcançada, de assistir ao desfile de alguma escola de samba. Não era desfile oficial, ao contrário, até onde sei, era espontâneo e talvez tolerado pero no mucho pela polícia.
Nas noites de terça-feira gorda, aí sim, as calçadas ficavam repletas, era o desfile das Grandes Sociedades, com carros alegóricos e mulheres mandando beijinhos para o público. Os adultos deliravam. Eram o Clube Democráticos (meu pai torcia por ele e até frequentava, ocasionalmente, sua sede na Rua do Riachuelo com sua tradicional dança de salão e seus bailes populares), os Fenianos, os Tenentes do Diabo o Pierrô da Caverna.
Sim, é verdade, Chico devia ser sócio do Democráticos, mas não recordo se minha mãe o acompanhava nesse clube. Com certeza, minhas primas Léa e Chaike, meu primo Rubem, eram fiéis frequentadores. Parece que o clube tinha, em algum momento, um histórico de ação política e uma atitude positiva em relação aos judeus. A conferir.
Nesse mesmo ano de 1942, Getúlio anunciou a abertura de uma grande avenida, nosso prédio estava na lista das demolições e nós nos mudamos para o Beco da Mãe, a vila de número 32 da Rua Hilário Ribeiro, ali do lado da Praça da Bandeira.
Nosso novo capítulo carnavalesco estava para começar: primeiro, brincadeiras na vila e nos arredores, depois o grande momento, nosso Bloco de sujos. Envergando um velho vestido de minha mãe, ocupamos o recinto do bonde que ligava a Praça da Bandeira à Lapa, nosso bloco ia e voltava de um ponto ao outro enquanto cantávamos, batucávamos, pulávamos ao som do piston soprado pelo nosso vizinho da casa 10, Walter ou seria o Waldir (Além de tocar piston, um dos dois dava aula de matemática para o meu querido Fraim. A conferir).
Outra farra desse período de Carnaval, a fabricação de máscaras de papel velho, geralmente jornais. Não lembro como começou, mas recordo bem como se dava a produção: páginas de um jornal velho cortado em pedacinhos, geralmente quadrados, uma pequena bola ou até uma bexiga cheia, no tamanho do rosto de quem for utilizar a máscara. Esses pedaços de papel eram colados em toda a bola (ou bexiga), quanto mais camadas fossem colocadas, mais resistente ficava a máscara. Depois, era esperar até que a secagem e o endurecimento se completasse. A gente já estava em pleno estudo de artes plásticas sem desconfiar…
Outras lembranças do nosso Carnaval: confete, serpentina, lança-perfume – aí dois tipos, o mais caro e elegante, o Rodo metálico e o mais barato, Rodo em embalagem de vidro, barato, que quebrava com facilidade.
O Clube dos Cabiras, da comunidade judaica, realizava um badalado baile de Carnaval na sede do Botafogo, na Rua General Severiano.
Arlênio e eu estávamos muito a fim de conhecer o baile, que era bastante falado na cidade, só que era preciso comprar ingressos. Claro, nem eu nem meu querido amigo tínhamos a menor chance nesse aspecto financeiro. Mas a santa mãe dele (não lembro o nome, lástima) nos ofereceu uma saída, “que tal venderem refrescos de limão ali na esquina?”. Era a esquina da Avenida Rio Branco com a Teófilo Otoni, onde o Arlênio morava. Com a ajuda dela, preparamos um enorme caldeirão de água, limão, açúcar e muito gelo. E fomos pra esquina vender. E não é que vendemos tudo? Mas ainda faltavam alguns trocados para completar a compra dos ingressos do baile. E o estoque de limão tinha acabado. Por sugestão da mãe de Arlênio, voltamos à esquina, desta vez para vender água gelada com açúcar. Deu certo. Sobrou dinheiro para os ingressos e até um troco para a condição.
Foi um baile inesquecível.
Aí, por volta de 1953, fui trabalhar na Última Hora/Rádio Clube do Brasil. No carnaval, jornalistas e funcionários organizaram um bloco fantasiado de Guilherme Tell, uma graça. E saímos visitando muitas redações de outros jornais. Quando deixamos o Diário Carioca, uma jovenzinha bonitinha me deu uma tremenda bola. E numa tal de esfregação, fomos sambando em direção ao prédio de A Noite, na Praça Mauá. Pois é, a moça tinha dono e ele resolveu acabar com a festa e partiu pra cima de mim. Eu vi tudo escuro, mas fui salvo pela solidariedade do pessoal da Última Hora, eles me defenderam, botaram o cara para correr e eu brinquei o resto do Carnaval em excelente companhia!
Anos mais tarde, comecei a frequentar ensaios de algumas escolas de samba, Mangueira, Estácio de Sá, Portela e, sobretudo, Salgueiro – até porque, nessa época, o Salgueiro era reduto dos torcedores do Ameriquinha.
Por volta de 1962, recebemos a visita de Fella, irmã da Germaine, que pela primeira vez vinha ao Brasil. Catedrática de Psicologia na Sorbonne. Entre as várias atrações que lhe oferecemos, além de um enorme churrasco num restaurante de Copacabana, levamos Fella a um ensaio do Salgueiro, onde o Calça Larga fez as honras da escola, dando-nos o lugar de honra na quadra, oferecendo-nos cervejas e comidinhas. Sirio e Tia Alda também fizeram as honras da casa, dedicando um batuque especial “para a professora que veio de Paris para conhecer o samba”. Fella vibrou, é claro.
Mais ainda quando entendeu o enredo que seria sambado na avenida daí a alguns meses, Chica da Silva.
Para quem é do ramo, foi o Salgueiro que fez dançar o minueto pela primeira vez na Avenida Presidente Vargas, na Candelária, após deixar a Rio Branco. Eram as irmãs Marinho, bailarinos do Municipal e passistas do Salgueiro, tudo armado pelo Haroldo Costa.
O Salgueiro ganhou um título inédito, com esse enredo do Arlindo Rodrigues. O Sérgio Cabral, o Velho, estava na Presidente Vargas e sentiu o impacto para o bem e para o mal. Ficou impressionado, mas, a exemplo de parte da imprensa, questionou se aquilo era compatível com a tradição. Cinco décadas depois, contou que se rendeu com o maior prazer.
Apesar
De não possuir grande beleza
Xica da Silva
Surgiu no seio
Da mais alta nobreza.
O contratador
João Fernandes de Oliveira
A comprou
Para ser a sua companheira.
E a mulata que era escrava
Sentiu forte transformação,
Trocando o gemido da senzala
Pela fidalguia do salão.
Com a influência e o poder do seu amor,
Que superou
A barreira da cor,
Francisca da Silva
Do cativeiro zombou ôôôôô
ôôô, ôô, ôô.
No Arraial do Tijuco,
Lá no Estado de Minas,
Hoje lendária cidade,
Seu lindo nome é Diamantina,
Onde nasceu a Xica que manda,
Deslumbrando a sociedade,
Com o orgulho e o capricho da mulata,
Importante, majestosa e invejada.
Para que a vida lhe tornasse mais bela,
João Fernandes de Oliveira
Mandou construir
Um vasto lago e uma belíssima galera
E uma riquíssima liteira
Para conduzi-la
Quando ela ia assistir à missa na capela.
Uma pérola…
Apesar disso, quem me deu o título de sócio honorário foi a Portela, no tempo em que a escola ensaiava em Botafogo, numa quadra municipal ao lado da estátua do Manequinho. Mas é porque eu era secretário de Redação de O Globo e a turma da Serrinha era grata pelo apoio que eu dava às escolas de samba.
Já em São Paulo, em 1972, aluguei um apartamento de frente na avenida São João para acompanhar, pela primeira vez, o desfile das escolas de samba paulistanas. Era muito conveniente, tinha uma grande varanda e dava para entrar, praticamente, no coração das escolas. Que nessa altura do campeonato não eram um carbono das escolas cariocas, sambavam uma dança mais tradicional, daquelas que Mário de Andrade cultuava, um samba rural. Pena que isso agora é só memória.
E lá dentro, numa boa mesa, com bebidas e comidinhas, Germaine, Fanny, Lagoutis, Maurice, Ester e outros gregos e romenos, passaram o Carnaval inteiro jogando cartas e contando piadas. Ah, sim, de vez em quando um ou outro se levantava, vinha até a varanda e espiava a escola que estava passando…
Em Santana de Parnaíba eu desfilei dois anos seguidos na ala das bichas, ao lado do Vicci, do Marcos, de todas aquelas figuras ótimas dessa ala, verdadeira alma da escola de samba Unidos de Parnaíba. Num desses carnavais, fantasiado de guerreiro romano, entrei sambando na pracinha para desespero da neta Marina, ela tinha aí uns 5 ou 6 aninhos, e ficou nervosa ao avistar o avô pulando ao ritmo da escola. “Meu vô, meu vô!”.
Foi a minha despedida efetiva dos Carnavais.
São Paulo, túmulo do samba?
Dizem que a frase é de Vinícius de Moraes, há controvérsias. Segundo o meu companheiro Azedo, seria um protesto contra o público da antiga boate Cave, na Rua da Consolação, durante apresentação de Johnny Alf, um dos precursores da bossa nova, em 1960.
Se é vero, o poetinha devia já estar de cara cheia. Afinal, ele teria se arrependido rapidamente. São Paulo sempre foi um acolhedor mercado para os sambistas cariocas. E o que a gente está vendo agora pela televisão, os blocos ocupando as principais avenidas e bairros, os desfiles de escolas de samba, tudo isso mostra que pioneiros paulistas como Germano Mathias, Geraldo Filme, Dona Inah, Oswaldinho da Cuíca e Seu Nenê da Vila Matilde não semearam em vão.
Tiro ao Álvaro, Saudosa maloca, Iracema e Trem das 11, de Adoniran Barbosa, Ronda e Volta por cima, de Paulo Vanzolini, são clássicos do samba paulista, cantados em todo o país.
Henrique Bernardo Veltman é jornalista.